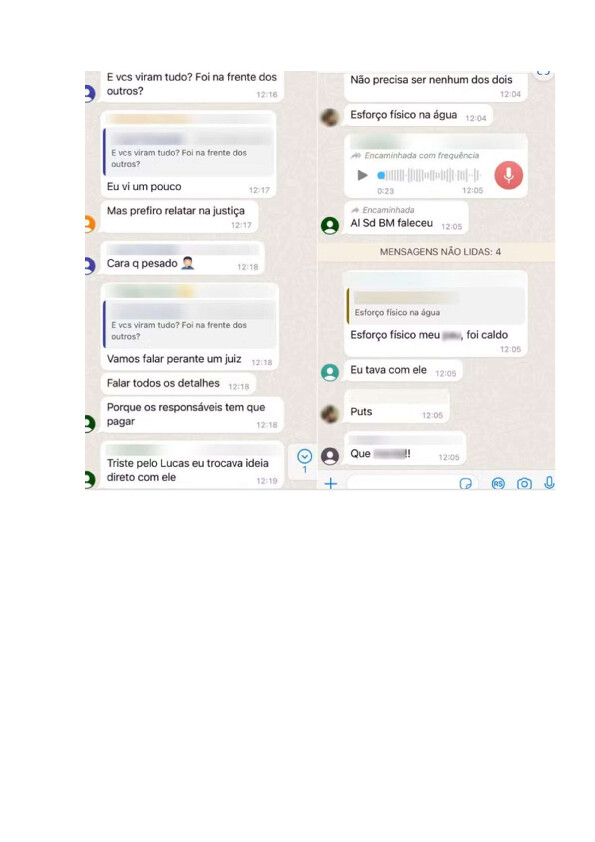Os que não sabem viver são os que temem a morte
Diário da Manhã
Publicado em 16 de outubro de 2018 às 23:08 | Atualizado há 6 anos
Por que as pessoas temem tanto a morte? Existem aquelas que, de tanto pavor, negam-se até mesmo a falar sobre o assunto. Talvez a morte seja o fenômeno natural e, paradoxalmente, desconhecido que mais medo impõe aos humanos.
Todo ser vivo, os animais principalmente, age para evitar a morte, ainda que inevitável, mas o faz por mero instinto natural de sobrevivência, em um processo de seleção natural. Ao que se sabe, apenas os humanos temem a morte não apenas pelo fenômeno em si – num conceito médico, a falência das funções vitais -, mas, fundamentalmente, pelos mistérios que a rodeiam, como uma possível vida após a morte, a ideia de Céu e Inferno e, ainda, o medo do castigo eterno como expiação pelos pecados cometidos em vida.
Desde os povos antigos a morte sempre despertou o medo e a discussão, sempre rodeada de mistérios e crenças. Na mitologia grega a morte era personificada por Tânato que seria responsável por levar as almas para Hades, o reino dos mortos. Ainda segundo relatos mitológicos, Sísifo raptou Egina, filha de Asopo, tendo este desconfiado de que quem a raptara teria sido o próprio Zeus. Sísifo provocou a ira de Zeus, tanto pela suspeita que recaíra sobre si quanto pelo fato de Sísifo ter-se transformado em águia e sobrevoado o seu reino com Egina. Por vingança, Zeus ordenou a Tânatos que levasse Sísifo para Hades, o reino dos mortos, como castigo eterno.
Diferentemente dessa ideia de morte como castigo ou a atribuição de um mal, o filósofo Epicuro de Samos (341 a.C. – 271 a.C.) concebia a morte como algo absolutamente natural, que nada significa. Para ele, o princípio básico da vida é a felicidade, chamada de eudaimonia, que é obtida pela prática da ataraxia, ou seja, através da calma e apatia em relação às cobiças mundanas. Sua doutrina, o Epicurismo, contribuiu muito para libertar as pessoas do medo da morte. Ele entendia o ser humano como uma entidade coesa, formada por um conjunto de átomos em movimento e a morte seria algo tão inevitável quanto natural. Seria, para ele, uma simples dissolução destas partículas elementares que, posteriormente, se reunirão outra vez, dando origem a outros seres.
Para as civilizações ocidentais o temor à morte está tanto relacionado à ideia de inferno quanto à cultura capitalista, de extremo apego a valores materiais. Entre nós não foi cultivada uma ideia de morte como fenômeno natural de elevação e sublimação da alma ou do espírito, como o fazem as culturas asiáticas, principalmente. Mas as religiões trabalham muito na construção do medo, principalmente na personificação da imagem do Mal, representada no Diabo, tornando a ideia da morte como sendo uma expressão de algo terrível.
De fato, o medo da morte ou o fingir que ela nunca virá, com exceção para os outros, tem tornado a vida de tanta gente em algo absolutamente sem sentido. Disso decorrem muitos sentimentos de ódio, rancor, perseguição, emulação, desprezo, indiferença ao próximo. As pessoas, paradoxalmente, ao argumentarem que é perder tempo pensar na morte, pois, fosse isso, deixariam de viver uma vida plena, estão, em verdade, tornando a vida em algo morto, absolutamente sem nenhum prazer de viver, ofuscado por uma ilusão que, ainda que tarde, virá como forma de uma lição tardia e irreversível.
Conheço pessoas que se dedicam diuturnamente à árdua tarefa de acumular bens materiais, numa sanha dantesca de entregar-se ao trabalho e, muitas vezes, em atividades ilícitas, numa cobiça obcecada que se esquecem não apenas do quanto já possuem, mas da própria família e dos prazeres que o fruto do trabalho deve proporcionar. Muita gente tem o desejo, por exemplo, de construir uma suntuosa mansão, até conseguir, para mera ostentação. Não é raro que muita gente sequer conhece todos os cômodos de suas casas, nem o mobiliário que nelas existem. A obsessão elo acúmulo de riquezas e a ânsia por poder e subjugação do próximo tem impedido muita gente não apenas de viver, verdadeiramente, mas de saber até mesmo a quantidade de riquezas que possui e quantos males infligem aso semelhantes.
Em tempos de egoísmo extremado, o desprezo ao semelhante tem impelido o ser humano a uma obstinada sanha pelo acúmulo de bens patrimoniais que, caso pudesse viver vários séculos, seria incapaz de esgotá-los. Vemos, no nosso dia a dia, uma corrida insana pelo acúmulo de bens que, por outro lado, nos entulha de solidão e de uma vida vazia, fazendo-nos perder a racionalidade, desprezando os sentimentos gregários e, perdidos num terreno da inescrupulosidade, enveredam-se para a ilicitude, para a trapaça, a corrupção, a malandragem, invertendo valores. E essa falência moral é transmitida às novas gerações.
Não por acaso, face em razão dos valores morais, afetivos, de honra, serem substituídos pelos valores patrimoniais, não é raro vermos famílias iniciarem uma disputa pelo patrimônio hereditário antes mesmo da morte dos pais. O sentimento de comoção e consternação pela perda dos entes queridos estão sendo substituídos pela expectativa patrimonial que é incomodada por uma morte que teima em tardar chegar.
A ideia de morte como sinal de desgraça que se abate sobre aquele que morreu, o “desgraçado”, força o entendimento de que ela só se abaterá sobre o outro e que o que observa o outro morto é um expectador privilegiado que nunca terá o mesmo destino. Esse é um dos maiores equívocos cometidos por aqueles que fingem ou ignoram que a morte é inevitável e “democrática”: fatalmente, virá para todos.
Deflui-se, portanto, que ignorar a morte é um ato de injustificável egoísmo. E é esse egoísmo que tem tornado a vida mais entediante e socialmente insuportável. Se as pessoas pudessem refletir mais intensamente sobre a inevitabilidade da morte creio que a vida se tornaria mais rica, mais intensa e que as pessoas se tornariam melhores. Quantos filhos ignoram ou tratam com indiferença os seus pais sem levar-se em conta que muito brevemente virá a perde-los? Não é raro ver pessoas chorando desesperadas diante de uma realidade irreversível, o falecimento dos pais e dedicarem-se a meros lamentos por terem desprezado a certeza de que, mais dia menos dia, a morte viria?
Quantas vezes deixamos ou adiamos nossas vontades de manifestarmos nosso amor ao próximo, à uma pessoa querida, acreditando que teremos todo o tempo do mundo par fazê-lo? Quantos vezes olhamos para nós mesmos e nos perguntamos: como pude ter silenciado-me diante de tanto amor que eu sentia e, por orgulho ou vaidade, não o fiz?
Na obra do genial Charles Allan Gilbert (1873-1929) que se chama “Tudo é Vaidade”, há uma ilusão de ótica na qual se observa a imagem de uma mulher vaidosa refletida no espelho que, no conjunto, incute àqueles de olhares menos atentos a existência da imagem de uma caveira representando a morte. Trata-se de uma crítica ao apego material e à vaidade excessiva da vida mundana.
Eu vejo como muito positivo à vida a existência da morte. Se as pessoas levassem mais à sério a inevitabilidade da morte certamente a vida seria mais plena e feliz e as pessoas se amariam e se respeitariam mais. Nesse sentido, ainda que possa ser paradoxal, a morte presta uma grande contribuição á uma vida verdadeiramente bem vivida. As pessoas se tornariam, inevitavelmente, bem melhores se tivessem a consciência de que a vida é efêmera e dela nada levamos, senão o amor, a alegria e o bem partilhados.
A vida, para ser vivida plena e verdadeiramente, ainda tem muito o que aprender com a morte. Nesse sentido, não é como não ter como lição a ser seguida os ensinamentos do filósofo Montaigne (1533-1592), que, segundo ele, quem ensinasse os homens a morrer, os ensinaria a viver.
(Manoel L. Bezerra Rocha, advogado criminalista – e-mail: mlbezerraro[email protected])
]]>