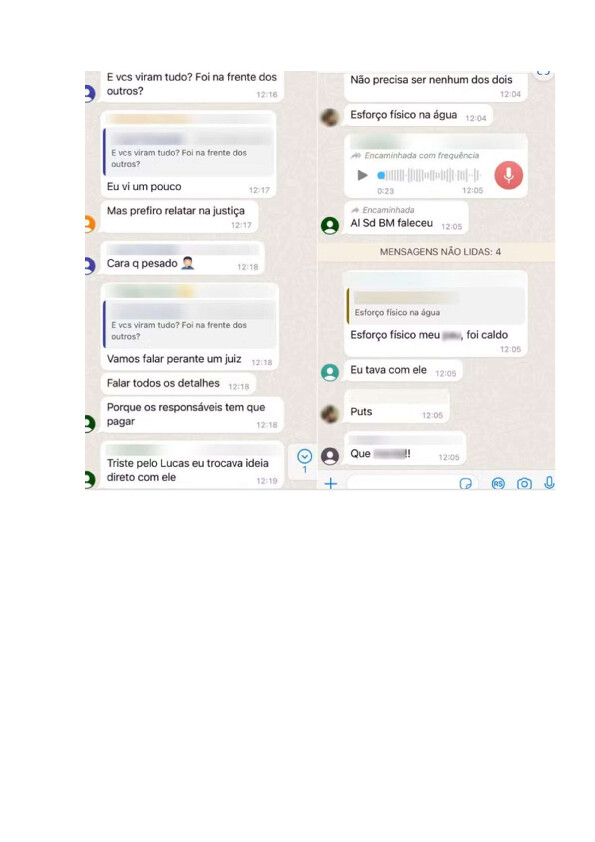Morte, tema-tabu
Diário da Manhã
Publicado em 4 de novembro de 2015 às 00:12 | Atualizado há 9 anosDia de Finados, daqueles que findaram, os mortos. Será, no futuro, o dia de cada um de nós. Mas quem encara este destino inelutável?
Entre crianças de seis anos de idade convidadas a escrever cartas a Deus, uma delas propôs: “Deus, todo dia nasce muita gente e morre muita gente. O Senhor deveria proibir nascimentos e mortes, e permitir a quem já nasceu viver para sempre.”
Faz sentido? Seriam evitados a superpopulação do planeta e o sofrimento de morrer ou ver desaparecer entes queridos. Mas quem garante que, privados da certeza de finitude, essa raça de sobre-humanos não tornaria a nossa convivência uma experiência infernal? Simone de Beauvoir deu a resposta no romance Todos os homens são mortais.
É esse ideal de infinitude que fomenta a cultura da imortalidade disseminada pela promissora indústria do elixir da eterna juventude: cosméticos, academias de ginástica, livros de autoajuda, cuidados nutricionais, drágeas e produtos naturais que prometem saúde e longevidade. Nada disso é contraindicado, exceto quando levado à obsessão, que produz anorexia, ou à atitude ridícula de velhos, que se envergonham das próprias rugas e se fantasiam de adolescentes.
Tenho amigos com câncer. Um deles observou: “Outrora, era tabu falar de sexo. Hoje, falar de morte.” Concordei. Outrora, a morte era vista como um fenômeno natural, coroamento inevitável da existência. Hoje, é sinônimo de fracasso, quase vergonha social.
A morte clandestinizou-se nessa sociedade que incensa a cultura do prolongamento indefinido da vida, da juventude perene, da glamorização da estética corporal. Nem sequer se tem mais o direito de ficar velho. Nós, que já nos incluímos no Estatuto do Idoso, somos tratados por eufemismos que visam a aplacar a “vergonha” da velhice: terceira idade, melhor idade ou, como li na lataria de uma van, “a turma da dign/idade”. A usar eufemismos, sugiro o mais realista: turma da eterna idade, já que estamos próximos dela.
No tempo de meus avós morria-se em casa, no espaço doméstico cercado de parentes, amigos e objetos que constituíam a razão de ser da existência do enfermo. Hoje, morre-se no hospital, um lugar estranho, cuidado por profissionais da saúde, cujos nomes ignoramos.
A agonia é suprimida pelos avanços da ciência – o coma induzido, a medicação que elimina a dor. O rito de passagem – unção dos enfermos, luto, missa de 7º dia, proclamas – é quase imperceptível.
“Morrer é fechar os olhos para enxergar melhor”, disse José Martí. As religiões têm respostas às situações limites da condição humana, em especial a morte. Isso é um consolo e uma esperança para quem tem fé. Fora do âmbito religioso, entretanto, a morte é um acidente, não uma decorrência normal da condição humana.
Morre-se abundantemente em filmes e telenovelas, mas não há velório nem enterro. Os personagens são seres descartáveis como as vítimas inclementes do narcotráfico. Ou as figuras virtuais dos jogos eletrônicos que ensinam crianças a matar sem culpa.
A morte é, como frisou Sartre, a mais solitária experiência humana. É a quebra definitiva do ego. Na ótica da fé, o desdobramento do ego no seu contrário: o amor, o ágape, a comunhão com Deus.
A morte nos reduz ao verdadeiro eu, sem os adornos de condição social, nome de família, títulos, propriedades, importância ou conta bancária. É a ruptura de todos os vínculos que nos prendem ao acidental. Os místicos a encaram com tranquilidade por exercitarem o desapego frente a todos os valores finitos. Cultivam, na subjetividade, valores infinitos. E fazem da vida dom de si – amor. Por isso Teresa de Ávila suspirava: “Morro por não morrer.”
Padre Vieira advertia no sermão do 1º domingo do Advento, em 1650: “No nascimento, somos filhos de nossos pais; na ressurreição, seremos filhos de nossas obras.”
(Frei Betto é escritor, autor de “A obra do Artista – uma visão holística do Universo” (José Olympio), entre outros livros)
]]>