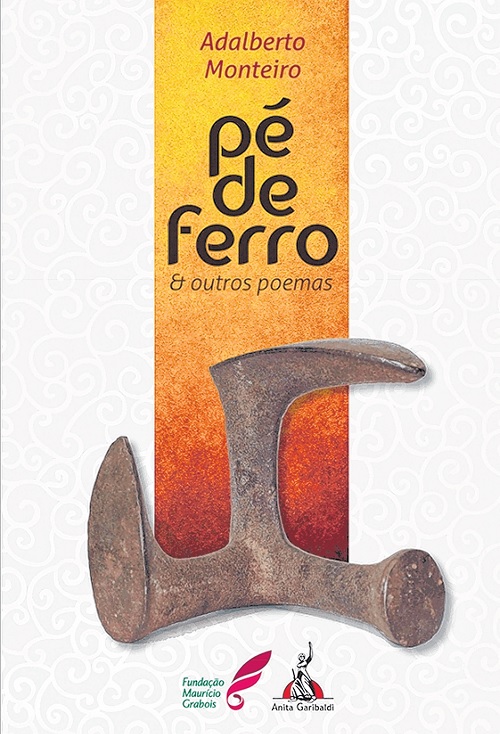Quanta poesia num simples pé de ferro!
Diário da Manhã
Publicado em 11 de abril de 2018 às 00:30 | Atualizado há 2 semanas
Gabriel Nascente adorou uns versos de Adalberto Monteiro que lhe mostrei, mas discorda de mim quando digo que os versos de Pé de Ferro são evocativos das serena e contemplativa visão elegíaca do grande José Décio Filho, injustamente desconhecido poeta goiano. Gabriel acha que Adalberto soa um tanto brechteano.
Pode até ser. Afinal, Adalberto Monteiro é militante comunista, dirigente nacional do PC do B, editor da revista Princípios, órgão teórico do vetusto noventão. Adalberto é também dirigente da Fundação Maurícío Grabois e da Editora Anita Garibaldi. Um homem de letras e de ação. Mas o poeta Adalberto Monteiro é um caso à parte.
Pé de Ferro é o terceiro livro de poemas deste artista inspirado, de aguda sensibilidade e talento literário continental. É, também, um ser humano raro. Pessoa de quem a gente acaba gostando de graça. A modéstia, a simplicidade, a simpatia, o jeito encabulado de garoto suburbano, nascido em uma família proletária, que sem fazer esforço algum acaba conquistando a estima dos que com ele tratam.
Adalberto Monteiro é ainda aquele menino nascido no Piauí, mas criado em Goiânia, lá no Crimeia, com quem muitas vezes me encontrei no ônibus da Reunidas que fazia a linha Balnerário-Centro via Fama. Nos anos 70, os jovens da minha geração, da geração de Adalberto, não tinham muitas informações. Vivíamos sob o tacão de uma ditadura claustrofóbica que nos alienava. Ao contrário da geração anterior, a de Aldo Arantes e a de José Dirceu, nos politizamos quando entrávamos na idade adulta.
“O país estava sob sombras./ A liberdade encarcerada/ e a Nação obrigada a sofrer calada”. Em “Conto de um encontro”, o poeta reflete sobre o final da década de 70, uma era que nos dera a missão de resgatar a primavera e, insensatamente, como os operários de Beleville, Paris, tomar o céu de assalto”. Aquele rapaz nunca mais se curou da loucura do amor. De confessa à sua musa: “ Pouco importa que essa felicidade tenha tido a duração de um relâmpago”.
Cursando Jornalismo na UFG, Adalberto logo estaria no PC do B, ainda clandestino, vendendo o jornal Tribuna da Classe Operária, e ajudando a reconstruir o movimento estudantil. Ele acabaria exercendo a vereança em Goiânia, e chegou a dirigir o PC do B goiano. O velho João Amazonas, sempre afável, lhano no trato, o típico comunista das antigas, tinha por Adalberto um carinho todo especial. O fato é o então jovem intelectual foi levado para São Paulo, para servir ao seu partido como organizador das atividades editoriais da sigla. E por lá ficou.
A musa de Adalberto é o centro antigo de São Paulo, opressivo, decadente, todavia, cativante. O poeta é aquele cidadão que adora bater pernas por aquelas ruas e observar a vida da metrópole cinzenta. Ao andar por aquelas ruas e praças, o poeta lança seu olhar compassivo e solidário aos que sofrem. Ele se compadece do mendigo expulso a jatos d´água, mas que ainda encontra forças para jurar vingança. Uma andorinha atabalhoada que invade-lhe a casa pela vidraça é tema de um poema comovente, por sua transbordante humanidade. O músico de rua, que toca tango na Paulista. A vida não escapa só olhar benevolente do poeta.
E assim ele vai, caminhando e cantando os deserdados da terra. Nada da fúria vulcânica de um Mayakovsky. Nada da amargura de um Brecht. Nenhum pingo do desespero de um Lorca. Nada da grandiloquência de um Neruda. Longe do transbordamento revoltoso de um Tagore Biran. O poética de Adalberto é sentimental na justa medida. Ele é sóbrio, parcimonioso no extravasar seus sentimentos. Nisso reside, penso seu, sua originalidade, sua marca artística.
Sua poesia não chega a ser um toque de reunir para a luta. E daí, qual é problema? Sua atitude é a de quem abraça um pobre mendigo de rua, aperta-o contra ao peito, e diz-lhe: “Meu irmão, meu irmão!” Esta veia mística de Adalberto, na linha lúcida de o misticismo de um Jacob Boéhme, assumindo um humanismo radical, é a garantia de que nosso socialismo terá uma face humana.
Como todo marxista, Adalberto é ateu, e o confessa. Mas seu ateísmo, como diria Jorge Amado, não o limita. Ele é capaz de se comover com a fé genuína dos que acreditam porque é absurdo, e não se interação pelos argumentos racionalistas dos teólogos. Confrange-lhe a alma o cadáver do morador de rua assassinado ao pé da estátua de Luiz Gama, no Largo do Arouche.
Como diz Gabriel Nascente, o poeta sofre porque quer enfiar o mundo numa palavra. A poesia que tem o mundo por conteúdo é a que fica, é a que comove, é que dá alento. A poesia que celebra a vida, ainda que a vida à esteja esmagada pela miséria, que é anti-vida, traz em si a mara intrínseca da honestidade. E o poeta que põe seus versos a serviço da dignidade humana – não do homem abstrato, mas o indivíduo de carne e osso que sofre e apanha – merece todos os encômios.
A poesia formalista, do puro jogo intelectual de palavras, que tenta tirar efeitos sonoros de sílabas embaralhadas, os concretismos e os neoconcretismos desumanizantes, sem compromisso com a vida, merecem de mim apenas desprezo. Essas vanguardas que andam por aí a promover formas vazias, querendo chocar apenas pelo gosto do escândalo sem causa, conseguem todos os espaços nos cadernos culturais da grande imprensa. Dela só temos que lastimar a enorme perda de tempo.
Enfim, Adalberto fala dos lugares onde andou. Ele correu mundo a serviço do socialismo. Esteve em muitos países representando o PC do B. Mas é à sua querência, a Goiânia de sua infância, que ele sempre volta. E vota no belíssimo e comovente poema em que reverencia seus país: “A história de um retrato”. O pai que teve uma renca de filhos e os sustentou no pé de ferro, remendando sapatos, e servido de garçom dos bailes granfinos do Jocquey Clube de Goiânia – que já não há – ou coletando apostas no Hipódromo da Lagoinha. A visitação sentimental prossegue no poema que dá título ao livro: Pé de ferro”. Valem pelo livro todo.
Já no final do livro, o poeta se lamenta de não ter visto o Kouhoutec, o tão esperado e festejado cometa que deu as caras por aqui no final dos 70s. Nada perdestes, poeta. Eu sempre tive essa mania de me levantar de madrugada para ver cometas. Vi muitos, e me decepcionei. O Kouhoutec ficou perpendicular à terra, de sorte que só víamos sua cabeça, apenas mais um astro banal brilhando um pouquinho mais. O cometa de Halley foi outra decepção. Mas por volta de 1972, acho que foi àquela altura, passou por aqui um cometinha que a imprensa dizia ser mixuruco, reles. Foi o cometa Benet. Pois este astro modesto riscou o céu da madrugada com suia luz verde, de um horizonte ao outro. O Benet, o humilde Benet, foi puro deslumbramento.