José Mauro de Vasconcelos e o cinquentenário de “O meu pé de laranja lima”
Diário da Manhã
Publicado em 27 de março de 2018 às 22:15 | Atualizado há 2 semanas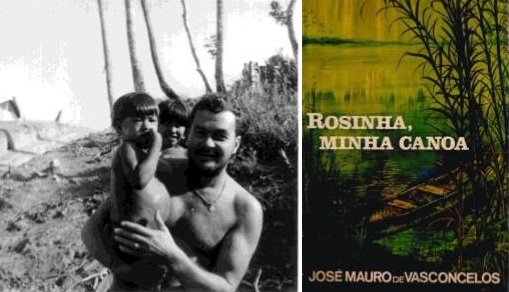
José Mauro de Vasconcelos foi um caso singular na literatura brasileira. Alcançou sucesso internacional, viveu da venda de seus livros, tornou-se o maior mito das letras brasileiras no seu tempo, mas o que apreciava era, na verdade, era estar entre os índios do Araguaia.
José Mauro de Vasconcelos nasceu no Rio de janeiro em 1920 e faleceu em São Paulo em 1984, aos 64 anos de idade. Era filho de Paulo de Vasconcelos e Estefânia Pinagé de Vasconcelos. Estudou no Rio de Janeiro, foi modelo, artista plástico, artista de cinema e televisão, escritor de sucesso. Foi o mais famoso escritor brasileiro de todos os tempos. Obras: Banana brava, vazante, Longe da terra, Barro Blanco, Rosinha minha canoa, Arraia de fogo, O garanhão das praias, Arara vermelha, Farinha órfã, As confissões de frei abóbora, O meu pé de laranja lima, O palácio japonês, O veleiro de cristal, Kuryala, capitão e carajá, A ceia, Coração de vidro, Doidão, Vamos aquecer o sol.
Ele foi, de fato, o primeiro a divulgar nacionalmente o Rio Araguaia, Goiás e nossos costumes indígenas. Muitos de seus livros tiveram por cenário a região dos nossos grandes rios e as águas a se perderem de vista, no interior do Brasil. Ele era descendente dos índios Pinagés, pelo lado materno; daí sua identificação com os silvícolas.
Em muitas de suas obras, na maioria, o Cerrado se faz presente. Este autor deu visibilidade a Goiás quando aqui era um pedaço completamente esquecido e desprezado do restante do Brasil.
Sua modalidade de escrita predominante foi o romance, ao pautar sempre por finais trágicos e inesperados. Seu romance O meu pé de laranja lima foi a obra brasileira mais traduzida. Praticamente existe em todas as línguas do mundo. Foi transformado em filme e duas versões de telenovela.
Desenvolvida por meio de uma biografia romanceada da infância do autor, a obra foi sucesso absoluto no ano de 1958, há cinquenta anos passados.
Rosinha minha canoa é um romance que se passa, em grande maioria, nos sertões goianos. Nele, Vasconcelos faz muitas descrições do Cerrado e das matas e várzeas goianas: “As garças, os jaburus, os patos, os munguaris, os socós, as anhumas, vinham todos chegando, fazendo sombra para as nuvens”. Também destaca sobre o lendário jaburu, das matas: “Os sábios jaburus, constantemente tristes e pensativos, caminhando na borda das praias, riscavam a areia ainda amorenada. os pios da jaó, lá longe, davam uma certa tristeza à gente”.
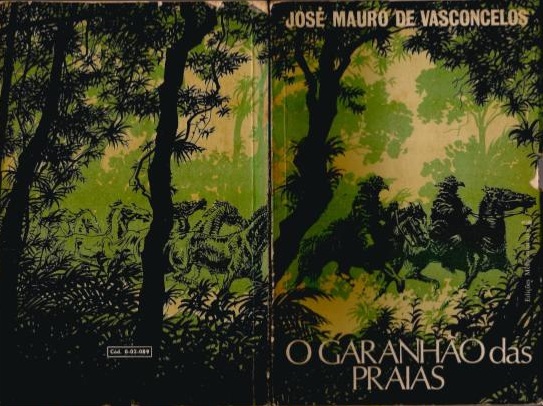

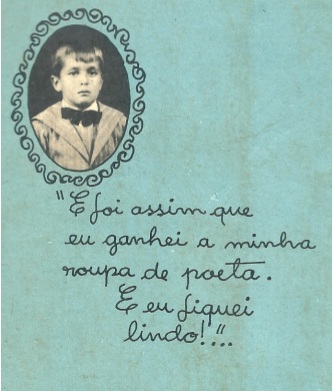
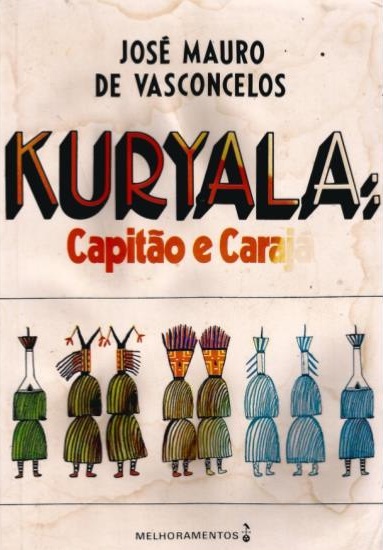
Ainda na mesma obra, Vasconcelos evoca a força dos imponentes jatobás das matas de Goiás, dando ao mesmo as características humanas: “O velho jatobá agitou levemente sua grande copa”. E continua a sinestesia, da fábula, na fala da canoa, feita de árvore do mato: “Obrigado por me haver feito nascer um belo pé de landi! Obrigado porque os índios me fizeram uma bela canoa!”
Também, nesse livro de sucesso, Vasconcelos evoca o olhar do personagem à mata circundante. Destaca a beleza silente das mesmas, os vários tons de verde, os cipós, as parasitas coloridas, a mata fechada na beira do rio. Mata ciliar, profunda e carregada de sentidos. Detalhou cada coisa, inclusive as folhas: “Seus olhos, então, foram percorrendo mais calmamente as árvores grandes e copadas. E como eram lindas! As folhas brilhavam à luz, apresentando um verde claro e sadio. Bem que Dona Chuva dissera que acharia a vida exuberante e bela. Tudo era festa de verde e um verde renovado e diferente. Como semente, nunca pudera antes olhar as cores direito porque a membrana que protegia nunca o permitira. Agora, não. Enxergava os cipós marrons ligando as árvores enquanto se entrelaçavam formando grandes correntes retorcidas. Parasitas rubras erguendo os pescoços arroxeados… cada uma de suas pétalas guardavam uma gota de chuva reclinada. Um amontoado de simbaibinhas lilases formavam um grande ramalhete, que oscilava, embalado pelo vento. Examinou depois, mais detalhadamente, as folhas. Todas eram diferentes. Todas dotadas de um tom esverdeado, enceradas pela ultima aguada caída. E o cheiro que provinha de tudo aquilo? O perfume do ar purificado e livre da poeira se confundia com o bafio de humo acumulado nas grandes raízes torcidas.”
José Mauro de Vasconcelos faz bela descrição do Cerrado em seu romance O garanhão das praias. Nele, Vasconcelos exorta sobre a travessia dos grandes rios, o uso da canoa e do remo, a força descomunal da natureza na região do vale do Araguaia.
Num fabulário imaginativo, o personagem conversa com o rio. Há um diálogo, como os próprios índios o fazem. Diz que o rio é imemorial, sempre o mesmo, sempre novo e renovado, ao contrário do homem. Há uma frase emblemática e poética: “Os pequizeiros vomitavam verdor”, a destacar a exuberância dos mesmos; destaca sobre as sementes e frutos do mesmo, assim como os pássaros nos galhos. É uma visão literária e descritiva do homem e sua relação com o rio e com o Cerrado: “Atravessou o rio e só então refletiu numa coisa. Quantas vezes tinha feito aquilo? Quantas remadas usara remexendo por vinte anos as águas do rio amigo? Teve uma palavras de ternura para o rio. – Você sim, rio amigo, nunca morre e nem envelhece. Ao contrario a cada ano que se passa, você fica mais bonito. Demorou um pouco a chegar numa barranca do outro lado, onde pudesse amarrar a canoa e fazer o resto do percurso a pé. Olhou onde deixara a canoa e reparou que apesar da chuva a água ali era limpinha. Quase de um verde transparente. Isso porque fazia dias que não chovia e aquelas águas provinham do Rio das Mortes. Rio de águas cor de caldo de cana. Assobiou para não acumular tristezas e saiu caminhando despreocupado com a penca de banana na mão, executando um pendulo amarelo. Os pequizeiros vomitavam verdor. Com tanta chuva se intoxicavam de verde brilhante. As bolotas do Pequi tombavam pelo chão pequeninas substituindo a floração que desaparecera. Só os pássaros cantavam por perto. O resto se calava num mudo respeito aos mortos. Ali estava o cemitério dos brancos. Subindo um trilheiro acharia no meio do mato o “uabedé” dos índios. Subiu. Os índios não usavam cruzes e sim um tronco com duas espécies de orelha numa imitação de mascara de Aruanã. Os montes remexidos onde se encontravam os túmulos tinham se multiplicado com a última epidemia. Não seria difícil descobrir o tumulo de Mariaualê. Era o único a possuir um itxocó grande de barro. Uma boneca de barro.”
Em outros de seus livros há precisão e beleza estética na descrição do Cerrado, das matas, dos rios e dos animais. Em Longe da terra, Vasconcelos descreve sobre a alimentação dos macacos nas matas goianas: “Macacos comiam ingás, nos ingazeiros das barrancas e a selva exuberante, imponente”. Na mesma obra relata a natureza aniquilante e a indolência dos homens, o dia bonito em meio à mata e a paisagem, a luz se derramando, as águas do Rio Vermelho, a mata úmida, o perfume da chuva, os oito meses só de chuva, a “terra apodrecendo de verdor”. A falta de perspectiva do homem a tudo aniquilar, perder, desperdiçar: “Olho da porta do rancho. Minha paisagem se amplia. Êta dia bonito! Não vai mais chover. O sol rebenta o dia derramando luz. O Araguaia se vestiu de espelho. Ele que há poucos dias atrás, era todo barrento, com nuanças esbranquiçadas, agora se prateou de todo. Somente na sua parte central aparece uma faixa avermelhada, sanguínea. São as águas do Rio
Vermelho se confluenciando com as do Araguaia. A mata do outro lado, na margem direita, está toda esverdeada e úmida. Seus cabelos verdes estão molhados e guardam o perfume da chuva. Tudo é verde. Uma paisagem verde. O verde nivelando tudo. O verde é o marco das águas que se foram. Se chovesse mais, a mata apodreceria de verdor. Acabaram-se oito meses de chuva naquela paisagem que Deus fez com muita preguiça, no fim do último momento do derradeiro dia da Criação. Em certos pontos, tem-se a impressão de que existe neve floqueando a copa das grandes árvores marginais: São garças brancas pousadas. Daqui a pouco, passarão os papagaios e os periquitos selvagens. Farão uma algazarra, rasgando o céu e criando uma sombra negra contra o sol. Eles passam. Ao amanhecer, ao meio-dia e ao entardecer. Vão para qualquer parte onde haja uma roça a desvendar. Aqui eles nunca pousam. Ninguém trabalha a terra. Dá muito trabalho. Não que a terra deixe de dar. Onde já se viu um lugar de Goiás que seja estéril? A terra roxa é tão fértil que só em pensar em plantar, ela germina. Mas ninguém pensa porque dá trabalho. É a Terra da Promissão. Entretanto, maior que a fertilidade da terra é a indolência dos homens.”
Em outras de suas obras, aparecem outras citações sobre o Cerrado ou sobre a vida difícil dos índios: “Lembrava-se da dificuldade com que o índio fazia a sua canoa. O landi derrubado na selva e muitas vezes arrastado com esforço sobre-humano para junto de uma barranca”. Também sobre a existência dos índios e os animais, no interior da selva, na obra Arraia de fogo: “Put-Kôe com a veadinha no colo, as pernas estiradas, os peitinhos duros imitando duas pêras, o rostinho belo com a franjinha muito preta, os cabelos luzidios caindo lisamente até os ombros torneados, o corpo núbil pintado de urucum e cipó-de-leite… Até os cabelos iam adquirindo aquele estranho formato de folhas rubras, iam sendo besuntados de urucum”.
Ainda nessa obra, a mais contundente de todas, Vasconcelos demonstra a interação e integração do personagem com a terra, com a mata, com as flores, com o solo. Evoca os pássaros, os bichos, as flores, a natureza com todo o seu vigor e sua força, sua obstinação e rebeldia. Nessa passagem a selva fala, grita, tem voz e lamento; Caiá, o índio, integra-se a tudo, como parte de tudo, indissolúvel e pulsante: “O vento vindo das árvores soprava-lhe sobre a cabeça desnuda e acariciava-lhe o rosto. O cheiro de humo dissolvido, sobressaindo daquela mistura de perfume morto, estimulava-lhe o ânimo. Longe da tosse e da tristeza contava sua própria vida. Os pássaros escorregavam entre as grandes galharias como folhas coloridas pelo espaço. A vida da terra, a seiva da vida, circula exuberante pelos troncos nodosos dos grandes patriarcas da mata. O vigor, a força, latejavam naquele recanto da selva; desde o zumbido dos mosquitos à marcha silenciosa das formigas negras; desde os guinchos dos macacos ocultos até ao pio distante do macuco. Caminhava naquele mar de verdura como se seu sangue se tivesse transformado em seiva. Não sentia os pés magoados, nem os golpes da tiririca sobre os braços e a face; não havia mais dor. Ouvia em êxtase o canto da selva acolhedora; o remexer contínuo da ramada verde, balouçando-se toda a folhagem ao vento da tarde. Sentou-se para descansar. Sobre suas pernas, os carrapatos e as formigas louras escorregavam de lado a lado, numa liberdade absoluta, sem susto. Encostou a cabeça num tronco e ergueu a vista para o alto, acompanhando as espirais dos cipós e contemplando as flores que se intrometiam, rubras, entre seus nós desajeitados. Nesgas de céu, pedaços de azul do céu, espiavam a vida da selva, curiosamente. E feixes dourados do sol arremessavam-se à clareira fazendo reluzir as folhas largas das bananeiras selvagens. Borboletas amarelas iam e vinham sobre a folhagem, numa dança inconsciente de quem não sabe para onde vai. Caiá fechou os olhos por um momento. A umidade do chão escuro tonificava-lhe os nervos e repousava-lhe o peito. Entre os dedos a arma continuava imóvel, descansada a coronha no chão. Não sentia nada mais além do cheiro gostoso da tarde nativa e o vento sobre as narinas trazendo-lhe o hálito selvagem da natureza.”
Em outras obras ainda aparece o vigor da natureza, das matas e do Cerrado, como no livro Chuva crioula, em que Vasconcelos evoca com sentimento a natureza goiana, o ipê, a mata, o céu, a personagem Esmeralda comparada com a noite: “O céu é azul. A nuvem é branca. A flor do ipê selvagem, amarela. Quando cortava o dedo ou se arranhava o sangue surgia vermelho. Agora a noite era negra. Esmeralda olhava desesperada para as pernas e para as mãos. Como a noite”.
Nesse aspecto, a narrativa de Vasconcelos centra-se no espaço reduzido e reduzidas as personagens, como destaca Moisés (1973, p. 193) ao comentar que a limitação excessiva causa um engessamento da trama, fato que, por vezes acontece nas obras do autor. “Reduzir ao mínimo o espaço físico para a circulação dos protagonistas – constitui também um risco, porquanto o conflito deve gerar-se na ação e, ao mesmo tempo, gerá-la. Entenda-se por ação inclusive o diálogo, esfera ideal, como se sabe, para os conflitos se desencadearem. Contraindo-se o horizonte geográfico das personagens, urge propiciar condições para que os dramas surjam.”
Já em Farinha órfã, obra também calcada em Goiás, Vasconcelos descreve os animais do rio e no rio Araguaia, a pacatez do lugar: “Em breve os jaburus que faziam ronda ao vento da tarde, os magoaris e as garças, pousariam na beira das praias brancas do Araguaia para receber o frio da noite. E deveriam descer tão suave que nem assustariam os jacarés modorrentos”.
No livro “O meu pé de laranja lima”, o autor derrama-se em sentidos e significados da ternura e do encantamento. Liricamente e com muito sentimento, resvala para o reconhecimento da sua própria miséria no tempo de criança, no subúrbio carioca, seguindo depois em “Vamos aquecer o sol”, a discutir o fim de sua infância em Natal e no livro “Doidão”, a narrar a sua adolescência, seguindo para a vida adulta em “As confissões de Frei Abóbora”. Livros que, se unidos, relatam poeticamente a vida solitária do autor, um homem cortejado, mas sempre sozinho.
Nos 50 anos da obra mais lida no país, a enternecida lembrança de um autor que muito amou Goiás. Que descanse em paz, sob o murmurejo sereno do Araguaia querido!
(Bento Alves Araújo Jayme Fleury Curado, graduado em Letras e Linguística pela UFG, especialista em Literatura pela UFG. Mestre em Literatura pela UFG, mestre em Geografia pela UFG. Doutor em Geografia pela UFG, pós-doutorando em Geografia pela USP. Professor, poeta – bentofleury@hotmail.com)
]]>




